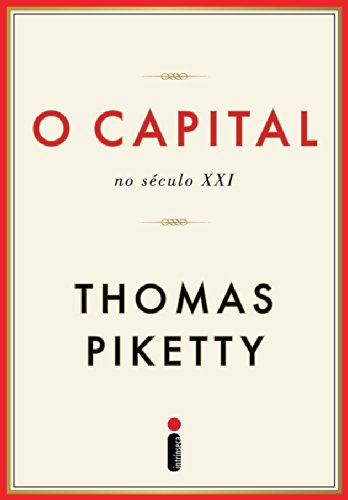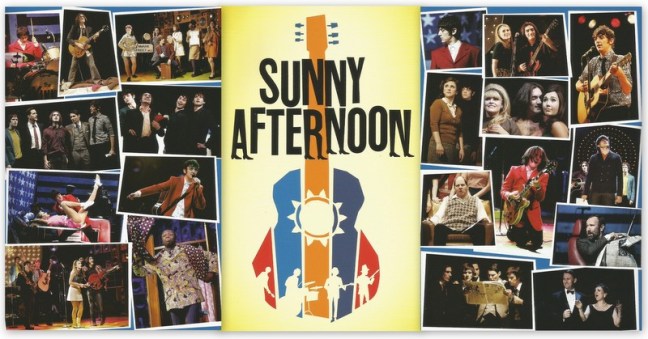Ainda que tenha mudado muito, um logradouro que propiciou o surgimento da rua da Vala não é o melhor lugar do mundo para se partir desta para melhor. Foi justamente isso, no entanto, o que se deu comigo. Já se vão aí muitos anos desde que tudo se passou. Como frequentasse sempre o local, conhecia bem a sua história. Sabia, por exemplo, como o Desvio do Mar (depois Rua do Ouvidor), dos tempos que precederam a urbanização do Rio de Janeiro, se estendeu continente adentro e foi dar na tal rua da Vala, à qual deram esse nome por abrigar em sua adjacência um córrego em que toda sorte de dejetos eram despejados. Só anos depois, a vala seria coberta e a rua ganharia o nome de Uruguaiana, tornando mais aprazíveis as cercanias do Largo da Carioca.
Novas mudanças estariam por vir e hoje quase tudo que ali havia, quando cheguei à cláusula dos meus dias, desapareceu. Foi-se o Hotel Avenida, foi-se a Galeria Cruzeiro, foi-se o Tabuleiro da Baiana e foram-se os bondes elétricos. Da época em que o infortúnio me levou daqui, ficou pouca coisa. Uma delas muito especial para mim: o velho relógio do Largo, contemporâneo do lampadário da Lapa e das reformas de Pereira Passos, com suas quatro faces e três sereias. É uma testemunha remanescente do meu fim. Entre as coisas que sumiram, foi-se acima de tudo a sede do jornal em que trabalhava. Eu tinha um talento mediano para o jornalismo. Apesar de estar presente nas redações desde há muito, minha rotina, no começo da década de 1940, momento do que aqui vai contado, se resumia a redigir notas de batizado, aniversário, casamento e missa. Alguns achavam que eu merecia mais. Pura gentileza.
Além do jornal, militava como advogado. Era dura a labuta de quem, durante a Segunda Guerra, tinha de sustentar uma família numerosa. Casara-me em primeiras e únicas núpcias com um anjo de pessoa. Com ela, dividia o leito conjugal, as alegrias e as batalhas de quem quer construir uma vida em comum. Desse enlace, nasceram filhos maravilhosos. O que vou contar aqui é algo, portanto, que só posso fazer porque passei para o lado de cá, dada a indiscrição que o episódio representa e o desgosto que atingiria as pessoas a quem sempre quis bem. Mas vamos aos fatos.
Lembro bem que era uma sexta-feira e que o fim de semana se anunciava com a perspectiva de praia naquela que pra mim já era uma Copacabana ensolarada. Gostava muito de residir perto do mar, sempre com sua brisa fresca e perfumada. Como o jornal em que trabalhava não circulasse aos domingos, o sábado era dia sagrado para mim. Aos plantonistas que me indagavam sobre minha costumeira ausência, repetia:
– Vocês não sabem, meus caros, que o sábado é uma ilusão.
Ao que um dos meus colegas redatores logo replicava.
– Ei, espera-lá, vamos com calma que essa frase é minha.
Mas voltemos aquela sexta-feira. Saí cedo de casa, como habitualmente fazia. Tinha ódio aos ônibus à explosão, que, além da tarifa exorbitante, eram barulhentos. Dirigi-me assim à estação de bondes, perto de onde hoje fica a praça Serzedelo Correia, e peguei o de número 13 em direção ao centro da cidade via Túnel do Leme. Como me alegrava o prazer de deslizar nos trilhos correndo as ruas ao som de um intermitente chacoalhar. Seguia sempre apreciando a paisagem, vendo o movimento e puxando assunto com algum passageiro conhecido. Havia até um poeta que gostava de me recitar, vez ou outra, seus versos que até que não eram de todo maus.
Mas voltemos à sexta-feira. Fiz aquela viagem sozinho e cheguei mesmo cedo ao jornal. Cumpri meus afazeres até às 14 horas, quando fui almoçar como de hábito com um grupo de amigos jornalistas naquele que ainda era chamado de Bar Adolph por nós. Depois do almoço, me separei de todos para ir à Caixa Econômica tirar do prego uma jóia da família. Queria presentear minha mulher naquela noite. Em seguida tomei o caminho de retorno ao jornal.
O relógio do Largo da Carioca marcava 16h45 e confesso que vinha distraído, meio sonhador, inebriado por um final de tarde belíssimo. Caminhava desatento e pensando como a vida é boa e como é bom viver. Quando me encontrava próximo ao Liceu de Artes e Ofícios, deu-se a infelicidade: um motorista inexperiente na direção dos novos e fumacentos ônibus surgiu em alta velocidade e me lançou espetacularmente ao ar. Ao incidente se seguiu um corre-corre. Uma enfermeira que passava por acaso prestou aqueles que não seriam os primeiros, mas os últimos socorros. Foi nesse momento que aconteceu o sublime. Desfalecido nos braços da enfermeira, tive a impressão de ter recebido, junto com a ajuda, um doce e demorado beijo, ao qual correspondi prontamente. Dali seguiríamos para o Posto Central e eu faleceria dentro do carro de assistência. Acompanhado por uma enfermeira que para mim se encontrava em seu uniforme branco e dentro de uma imaculada ambulância encaminhei-me para o undiscovered country de Hamlet.
Passados anos de toda a comoção que repercutiu nos jornais em extensos necrológios, pelos quais sou muito grato aos meus companheiros de profissão, surgiria a versão de um colega que colocaria no lugar da prestativa enfermeira um crioulo de narinas triunfais. Foi o que me fez perceber, com a natural distância em que me encontro dos mortais, o quanto é realmente vasta a imaginação humana.