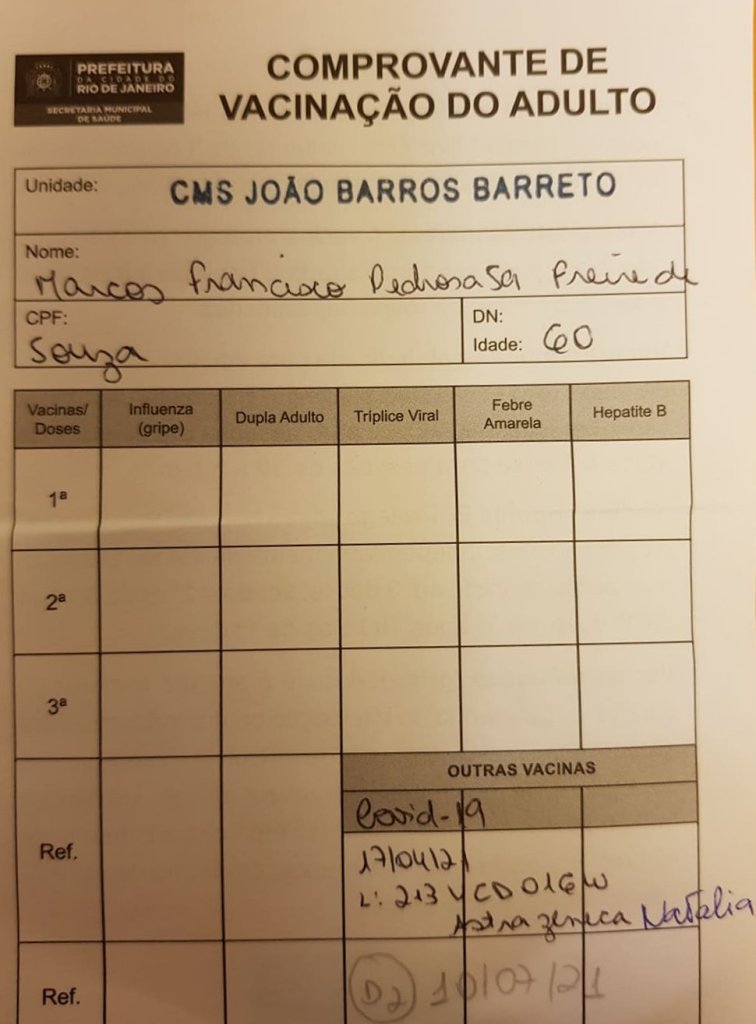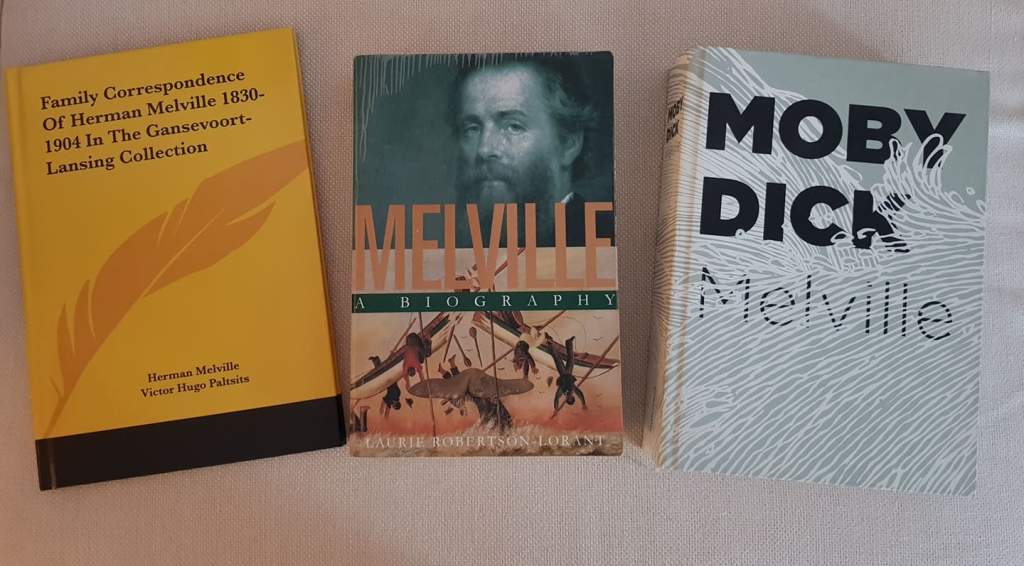Sei que muitos duvidam de milagres, mas tenho a convicção que o tal do curso de escrita criativa de fato dá resultado. Com tradição extensa nas universidades americanas, e agora começando a aparecer nas brasileiras, ele tem ajudado muitos candidatos a escritor, até mesmo limitadamente talentosos, a se tornarem autores premiados. É o que eu digo para a garotada e por experiência própria: tem gente que com pouco faz alguma coisa, enquanto outros, com muito, não fazem quase nada. Não acredito em receita pra escrever e julgo mesmo que alguns conselhos talvez só mostrem sua utilidade para quem se candidata a provas como o Enem. Isso, no entanto, não quer dizer que o trabalho miudinho e constante não se traduza em acertos concretos.
O mesmo se aplica à escola. Assim como o curso de escrita criativa é dispensável para os escritores por vocação, uma instrução tradicional pode ser deixada de lado pelo aluno brilhante, tenha ele tendência para a dispersão ou seja o aprendiz pertinaz. Para o estudante viajandão, uma instituição de ensino estruturada ajuda muito. Talvez por essa percepção, solicitei à minha mãe que me tirasse de uma “escola experimental”, o colégio Brasileiro de Almeida, e me colocasse em uma instituição mais certinha: o Colégio Andrews. Hoje essa convicção está clara pra mim. Entendo assim a razão pela qual o Hermano Vianna tivesse predileção por matricular seu sobrinho no Colégio de São Bento, também uma das mais antigas instituições de ensino do Rio de Janeiro, onde os professores ganham salário de docente de universidade.
No Colégio Andrews, as aulas eram ministradas das 7h às 13h (no São Bento, elas se estendiam até às 16h), de segunda a sábado. Aquela ideia do Darcy Ribeiro, que ele tentou implantar nos CIEPs, de que aluno deve passar o dia na escola, tem aplicação universal e funciona. Ajuda aos pais que precisam trabalhar e é a forma de instrução ideal. Quanto mais tempo na escola, melhor o aproveitamento. É verdade que havia algumas idiossincrasias, mas que eram coisas daquele tempo. No Colégio Andrews da década de 1970 (entrei para cursar o Ensino Médio desta escola em 1976), por exemplo, tínhamos como parte de nossa rotina algo impensável nos dias de hoje. O professor precisava colocar no quadro negro toda a matéria de aula para que os alunos copiassem. Tirando o exercício de caligrafia, não vejo nenhuma vantagem nesta prática que sumiu com a chegada das apostilas com o conteúdo de cada disciplina.
O problema é que a presença das apostilas fez com que esse item fundamental em toda aprendizagem que são os livros sumisse das salas de aula. Para as turmas do primeiro ano de 1976, o professor Ivan, de português e literatura, solicitou que fossem comprados apenas dois livros didáticos: “História Concisa da Literatura Brasileira”, de Alfredo Bosi, e “Literatura Brasileira em Curso”, antologia de textos organizada por Dirce Riedel, Carlos Lemos, Ivo Barbeiri e Therezinha Castro. O “História Concisa” me acompanharia até o doutorado e segue sendo muito útil. Apresenta um resumo da história de nossa literatura, toda ela redigida em uma prosa fluente e estilisticamente primorosa. Traz uma pequena biografia em notas de pé de página para cada autor comentado e não deixa de alçar voo para, na tradição do melhor ensaísmo, marcar, sem maiores alardes, a posição do autor no que toca à criação literária em uma nação que deixou há pouco de viver uma das mais cruéis experiências colonialistas amparada numa não meus cruel cultura escravocrata.
Palestra de Bosi na USP
Mas, o importante de se salientar em Alfredo Bosi é a classe de sua escrita. Assim como apreciamos o talento do escritor ficcionista, temos que aplaudir as virtudes do autor que deve exercer sua criação em um terreno mais árido como o da escrita acadêmica. Se existe os meneios tediantes de alguns textos escolásticos, tem-se de festejar a proeza da redação elegante, classuda, que recorre a vocábulos, entre o ousado e o arcaico, só correntes para aqueles que têm uma sólida cultura livresca. Palavras como “simpleza”, “pinturesca”, “vária”. Outro dia um leitor reclamou com o Sérgio Rodrigues a ausência do ponto e vírgula em suas colunas, o que rendeu uma crônica divertida. Pois a verdade é que certamente há uma questão geracional neste comentário. Vale a pena prestar atenção a como é usada com destreza essa pontuação nos textos de Alfredo Bosi. Voltando a lê-lo por conta de sua morte como mais uma das vítimas de um governo criminoso, fiquei maravilhado com sua prosa requintada. Só equiparável a de um José Paulo Paes, aquele que até traduzindo nos ensina muito sobre como redigir de forma polida e esmerada (pensem na tradução dele para o “Nostromo”, de Conrad, que vem acompanhada de um posfácio belíssimo).
Fui rever também uma palestra de Bosi que havia postado por aqui bem no começo deste blogue e fiquei contente em saber, ao ouvir sobre sua trajetória de vida na parte final de sua exposição sobre o conto “O Espelho”, de Machado de Assis, como a pessoa do poeta José Paulo Paes foi importante no começo de seu percurso acadêmico. Deve ao poeta paulista a convocação para preparar o “História Concisa” na segunda metade dos anos 1960, alguns anos depois de Bosi começar a dar aulas de italiano na USP. Lendo um historiador-jornalista pop como Eduardo Bueno (fui descobrir indicações de Bosi em sua bibliografia para a coleção sobre o Brasil) ou uma historiadora-antropóloga acadêmica como Lilia Moritz, percebe-se o alcance e lastro do que foi deixado pelo autor de “Dialética da Colonização”.
Em sua palestra de volta à USP, identificamos o cuidado em situar e traduzir para os presentes os traços instigantes da escrita machadiana em um conto extraordinário como “O Espelho”. Em um livro anterior sobre Machado, ele já havia situado e resumido as leituras pelas quais os escritos do Bruxo do Cosme Velho vêm sendo submetidos a escrutínio de diferentes perspectivas por aqueles que se dedicaram à análise de sua obra com grande empenho (Astrojildo Pereira, Raymundo Faoro, Roberto Schwarz). Quanto conhecimento, quanto saber, quanta erudição desaparece quando nos deixa um intelectual como Alfredo Bosi. Alguns comparam a morte de um estudioso com as qualidades de Bosi ao sumiço de uma biblioteca. Não há como se discordar.